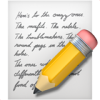De cima do armário da área de serviço, ele olhava pela janela. Não havia passarinhos à vista. Uma brisa leve bagunçou os tons de cinza, branco e mel. Era um gato tranquilo.
Um espirro forte o acordou do transe. Seguiu-se outro.
Aquele indivíduo tinha sumido por dias e voltara assim. Agora, a toda hora eram esses espirros. Que susto! Que frequência mais estridente! Para que tanto exagero…
Da sala uma voz chamou:
― Pedro, o Bob tem água?
― Sim, acabei de colocar. Mas ele tá de onda de novo.
(risos)
Fazia poucos meses que estavam morando todos naquele lugar com o armário na área de serviço. O gato gostava.
E havia algo muito familiar no ar…
― Venha me ajudar com as últimas caixas, sim?
O gato espreguiçou-se e mudou de posição. Outro cochilo se seguiu.
― Não sei o que tem esse gato. Tá muito de boa aqui. Quase não mexe…
No apartamento de baixo, o rapaz alto passou o enrolado de resina para o colega de cabelo longo. A fumaça espessa tinha se formado há tempos e escapava pela janela da área de serviço.
Os dias modorrentos de verão se seguiam com brisa, e sem chuva.